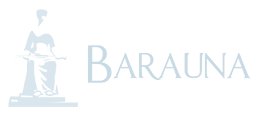Com o presente artigo, pretendemos lançar algumas breves reflexões sobre a condução da regulamentação dos planos privados de assistência à saúde, introduzida com a promulgação da Lei 9656/98, apresentando comentários e sugerindo algumas modificações.
Introdução. O Enfoque da Atividade Regulatória na Saúde Suplementar
Primeiramente, deve-se atentar para a diferença existente entre a atividade regulatória exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e aquela exercida sobre outros setores surgidos com a privatização de serviços públicos outrora prestados exclusivamente pela Administração Pública, direta e indireta.
Isso porque não há, na atividade empresarial voltada à saúde suplementar, uma atuação impositiva das operadoras de planos privados, diferentemente do que se observa nesses outros setores – como na telefonia e energia elétrica, por exemplo -, onde nos deparamos com “contratos obrigatórios” de fornecimento, que se justificam na premência de consumo dos respectivos produtos ou serviços, destacadamente de caráter público. Ou seja, enquanto na telefonia e energia elétrica, não há opções ao consumidor, que se vê impelido a contratar com um determinado fornecedor privado, na área de saúde suplementar, a autonomia de vontade é plena, ao menos no que tange à opção por contratar ou não, quem contratar e quando contratar.
O setor de saúde suplementar, assim entendido como aquele voltado para a organização empresarial de uma rede de serviços privados de saúde para uma coletividade, além de conviver com o sistema público de saúde (SUS), também não afasta a demanda espontânea do próprio consumidor para contratar diretamente junto aos prestadores privados, dispensando, pois, qualquer sistema de assistência de grupo. Já os demais setores, cuja atividade econômica também está sujeita à regulação de agências públicas, caracterizam-se pela existência de um mercado concentrado em pouquíssimos agentes, decorrente da privatização da respectiva atividade, até há pouco nas mãos do próprio Estado.
Quando me estabeleço com minha família em determinada localidade, tenho obrigatoriamente de me valer do fornecimento de energia elétrica, mediante o estabelecimento de vínculo contratual com a concessionária local. Tenho, ainda, de providenciar uma linha telefônica contratada junto à operadora de telefonia local. Não há liberdade para contratações alternativas, que me permitam proceder a uma prévia comparação das vantagens e desvantagens de cada fornecedor, o que frustra os benefícios da concorrência.
Se é certo que o programa de privatizações objetiva estabelecer uma política de mercado para esses setores, visando a trazer ao consumidor as vantagens da livre concorrência, não se pode negar que a herança concentradora ainda não permite com que se usufrua essas vantagens, sendo a concorrência algo ainda incipiente.
Pois bem, voltando à situação acima descrita, ao me estabelecer com minha família em determinada localidade, passo a ter à minha disposição uma gama de serviços de saúde, tanto públicos como privados. Posso optar por valer-me do sistema único de saúde, gerido de forma integrada pela União, Estados e Municípios, como também posso optar, se assim me aprouver, por me dirigir à rede particular, desembolsando os valores necessários a cada contratação que venha a demandar em situações específicas.
A liberdade pela contratação ou não de um plano de saúde suplementar é plena, não se traduzindo numa necessidade inafastável. Além disso, há uma inequívoca concorrência no setor, permitindo com que eu possa comparar as vantagens e desvantagens de cada fornecedora.
Essa clara diversidade entre os setores acima comparados demonstra que não haveria, para o setor de saúde suplementar, os mesmos riscos que justificaram a atividade regulatória naqueles outros setores que passaram por processos de privatização. Vale ressaltar que, em vista disso, eram bastante comuns planos de saúde de abrangência regional ou mesmo municipal, voltados a atendimentos de necessidades específicas da população local, inclusive com valores compatíveis com sua renda e com as expectativas relativas à cobertura assistencial suplementar que encerravam.
O que se observa na regulação desse mercado de planos de saúde, no entanto, é a tendência deliberada à concentração da operação desses produtos em poucas operadoras. Tal propósito é evidente diante do grau de profissionalização exigido para atender aos mecanismos de controle criados com a recente regulamentação, além da burocracia criada para sua implementação.
Somado a isso, observamos que a intenção de se transferir às operadoras de planos privados de assistência à saúde obrigações quanto à integralidade da cobertura, alargando o leque de procedimentos assegurados – responsabilidade eminentemente estatal, conforme os ditames constitucionais -, interfere diretamente na sinistralidade desses planos, gerando impacto significativo sobre seu equilíbrio financeiro. De acordo com dados da Federação nacional de Empresas de Seguros Privados e Capitalização – Fenaseg, a sinistralidade calculada sobre a receita dos beneficiários de seguros-saúde teve um salto de mais de 10% (dez por cento) nos últimos anos (cf. notícia Valor Online, 13/06/2003, nº 779, Finanças).
Esse aumento da sinistralidade conduz à redução da margem de lucro, fazendo com que as operadoras maiores procurem a rentabilidade por meio de ganhos de escala, fato que inevitavelmente leva à concentração do mercado. Essa realidade também foi retratada em reportagem assinada por Carolina Mandl e Cláudia Facchini, intitulado “Planos de saúde saem às compras para compensar estagnação”, publicado no Valor Online veiculado em 23/05/2003, nº 764 – Empresas & Tecnologia.
Ou seja, enquanto nos demais setores regulados, denota-se uma grande preocupação em se expandir a concorrência de mercado, na saúde suplementar parece que a política vem sendo norteada pela concentração. Apesar de parecer, num primeiro momento, que tal política permitiria a facilitação do controle da atividade das operadoras e dos respectivos produtos, tal opção pode levar a conseqüências indesejáveis.
Primeiramente, a concentração de mercado alija da concorrência as pequenas operadoras locais, que, por não possuírem estrutura operacional e financeira suficiente, acabam vendendo – e muitas vezes cedendo gratuitamente – suas carteiras às operadoras maiores, de abrangência nacional. Esse movimento faz com que desapareçam do mercado produtos cujas características mais se aproximam das necessidades regionais da população, levando à padronização de todos os contratos em âmbito nacional.
Aliado a isso, como segunda conseqüência da concentração, temos a vulnerabilidade do consumidor ante um mercado monopolizado. Certamente que, com a concentração e conseqüente tendência de padronização dos produtos, também os valores tenderão a ser unificados, para sustentar a oferta de uma cobertura mais ampla do que, muitas vezes, necessitam os consumidores, e, também, para assegurar assistência em uma ampla rede credenciada, à qual, provavelmente, a grande maioria dos consumidores não necessitará acorrer.
Não é preciso muito esforço para concluir que, de fato, os valores propostos por uma pequena instituição hospitalar que opere plano de saúde, cuja resolutividade seja limitada a seu corpo clínico e a suas próprias instalações, sejam significativamente menores do que aqueles praticados por operadora com uma ampla rede nacional de assistência. Além disso, quanto maior for o tempo e grau de concentração, maiores serão os riscos de que haja um movimento coordenado e integrado de fixação de preços em patamares desejados pelas poucas operadoras atuantes, já que o poder de negociação dos consumidores, diante da insuficiência de oferta, ficaria enfraquecido.
Ainda como conseqüência da concentração, observamos o risco de um recrudescimento da relação entre operadoras e prestadores de serviços, na medida em que também o poder de barganha daquelas tende a se fortalecer com a concentração de mercado, impondo-se sobre uma rede de prestadores logicamente pulverizada e desarticulada. Segundo a Associação Paulista de Medicina – APM, entre 90% (noventa por cento) e 95% (noventa e cinco por cento) dos médicos trabalham com planos de saúde. Segundo dados do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Município do Rio de Janeiro – Sindhrio, os planos de saúde respondem por mais de 70% (setenta por cento) da demanda dos hospitais e clínicas. Tais dados evidenciam a vulnerabilidade do setor ao lidar com um mercado monopolizado.
É evidente que o fortalecimento das operadoras, pela concentração, vai de encontro aos interesses de se incrementar os valores de remuneração de procedimentos médicos e hospitalares, para traze-los a patamares mais justos, o que, por conseqüência, levará a uma fragilização cada vez mais sensível da relação médico-paciente. Mais do que isso, a perpetuação desse arrocho nos honorários pagos pelas operadoras tem como curiosa conseqüência o próprio aumento no custo da assistência, na medida em que médicos desmotivados não dispensam o tempo necessário a um correto diagnóstico, apoiando-se cada vez mais em exames complementares que, numa situação de normalidade, poderiam ser descartados.
Por fim, vale lembrar que a ninguém interessa – a não ser aos grandes grupos que atuam ou pretendem atuar no mercado doméstico – a extinção dos pequenos planos operados por hospitais privados no interior, para oferta de cobertura assistencial a um universo restrito de pessoas, em sua grande maioria da própria comunidade local. São esses planos os maiores responsáveis pela inclusão de um grande número de beneficiários no sistema de saúde suplementar fora dos grandes centros, na medida em que, priorizando a cobertura àqueles procedimentos rotineiros, cuja demanda seja mais significativa, podem oferecer preços mais acessíveis.
A persistir esse perfil de regulação, que, direta ou indiretamente, vem conduzindo a uma concentração cada vez maior do mercado (inclusive nas mãos de grandes grupos estrangeiros), certamente se observará uma intensificação da migração da população dos planos de saúde para o SUS, congestionando ainda mais esse combalido sistema.
Se enfocarmos então a situação das instituições filantrópicas, a situação parecerá ainda mais periclitante, na medida em que os planos de saúde por elas operados vêm sendo uma importante – senão imprescindível – fonte de recursos para cobertura dos constantes e crescentes déficits que se observa com os atendimentos pelo SUS. Caso tenham as filantrópicas de abandonar essa sua atividade suplementar, vir-se-ão penalizadas em dois momentos: num primeiro, em razão da extinção dessa fonte alternativa de recursos; num segundo, pelo inevitável aumento da demanda pelo SUS, a que destinam a maior parte de sua assistência.
Feito tal enfoque introdutório, passemos à análise de algumas questões pontuais da atual regulamentação, cuja discussão entendemos pertinente e relevante. Esclarecemos que essa análise partirá do texto atualmente em vigor, considerando, pois, as alterações introduzidas pela Medida Provisória 2177-44, de 24/08/2001.
Da Definição
Conforme se denota do artigo 1º, inciso I, a definição do que seja plano privado de assistência à saúde compreende algumas regras que a legislação deveria estatuir para disciplinar o instituto, não para conceitua-lo. Ou seja, a pretexto de definir o produto “plano de saúde”, acabou o legislador por inserir certos requisitos nessa definição, limitando, com isso, a própria incidência da regulamentação sobre alguns produtos que certamente procurou atingir.
Isso porque, ao dispor o caput do artigo 1º sobre a obrigatória adoção dessa definição “para fins de aplicação das normas” estabelecidas na Lei, a subsunção do produto à descrição contida na referida norma passa a ser pressuposto para que sobre ele tenha plena aplicação a regulamentação.
O que mais merece destaque nesse caso, é condicionar-se a configuração do produto a contratos “por prazo indeterminado”, em que a garantia de assistência à saúde seja prestada “sem limite financeiro”, e onde os pagamentos à rede de prestadores seja feita “integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada”.
Ora, se se define o plano como algo que necessariamente contenha tais requisitos, então poderíamos concluir que o estabelecimento de produto com prazo determinado de duração ou com um claro limite financeiro de cobertura não seria um plano, e não seria atingido pela regulamentação aqui analisada. Poderíamos também afirmar que qualquer espécie de produto em que os pagamentos são feitos diretamente pelo consumidor, sem qualquer participação da operadora, não configuram planos de saúde.
Entendemos que não deva ser a intenção do legislador caracterizar o plano apenas nos casos em que o respectivo contrato não tenha duração determinada, até porque há uma regra expressa dispondo sobre sua renovação automática (cf. artigo 13).
Também a regra de que os produtos sujeitos à regulamentação são aqueles que não têm limite financeiro conduz à necessária exclusão dos seguros-saúde da regulamentação, na medida em que, suas apólices em geral fixam limites de cobertura para as indenizações. Poderíamos mesmo cogitar da criação de um plano de assistência, com limite de cobertura, por exemplo, para fugir à regulamentação, o que levaria ao restabelecimento dos produtos que se procurou eliminar com a promulgação da Lei – v.g. planos com limitação de diárias de internação.
Por fim, concluímos também que a Lei não teria incidência sobre os assim denominados “cartões de descontos”, na medida em que nesses, na maior parte das vezes as operadoras não participam do pagamento da remuneração dos prestadores conveniados. Não assumem, pois, qualquer obrigação quanto à cobertura financeira.
Ainda que se remeta à regra do parágrafo primeiro daquele mesmo artigo, veremos que as características ali contempladas, a autorizar a incidência da regulamentação sobre a respectiva atividade, não descarta a existência de cobertura financeira.
Entendemos que a definição deva ser mais genérica e abrangente, dispensando o regramento do instituto para momento posterior, como feito de início, com a versão original da própria Lei. Isso afastaria qualquer dúvida quanto à sujeição dos seguros-saúde à disciplina legal instituída (cf. RDC 65), permitindo também com que se atingisse todo e qualquer tipo de produto cujo enfoque seja o direcionamento do consumidor a serviços de assistência à saúde, como parece ser a intenção do legislador.
Dos Sistemas de Custeio Operacional – Planos ou Convênios
Ainda em análise da definição dos planos privados de assistência à saúde, releva destacar que o elemento nuclear dos produtos assim considerados recai sobre a cobertura financeira assegurada aos beneficiários em relação aos custos com assistência que demandarem junto aos prestadores. Assim, somente restará caracterizado o plano de saúde quando a respectiva operadora se responsabilizar por cobrir financeiramente os gastos incorridos pelos consumidores com atendimentos realizados pelos prestadores integrantes da rede credenciada.
Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que não se caracterizam como planos de saúde, ao menos não se adequando à respectiva definição, convênios celebrados com empresas para prestação de serviços assistenciais a seus funcionários, por exemplo, mediante remuneração dos custos operacionais desses serviços.
Ou seja, não configurará plano de saúde, para fins de aplicação da respectiva regulamentação, o contrato celebrado entre uma instituição hospitalar e uma determinada empresa para atendimento de seus funcionários, quando a remuneração dessa instituição recair sobre os próprios custos dos atendimentos. Isso porque, diante de um negócio tal, não há qualquer transferência onerosa de risco à instituição hospitalar, que portanto, não depende da sinistralidade para a fixação de sua remuneração. Todos os seus custos serão reembolsados, em regra, acrescidos de uma taxa administrativa. A única diferença para um atendimento particular recairá sobre o próprio valor dos procedimentos (que se baseará em seus custos efetivos, mais uma pequena taxa administrativa), e sobre o momento do pagamento dos serviços prestados.
Na maioria dos casos de produtos dessa espécie com que lidamos, a empresa contratante ainda procede à cobrança, mediante desconto em folha de pagamento, do custo integral incorrido por seu funcionário com o atendimento na instituição hospitalar contratada. Ou seja, quem arcará efetivamente com os custos incorridos é o próprio beneficiário. Nessa hipótese, não há nem mesmo o patrocínio pela empresa contratante da cobertura financeira dos riscos assistenciais de seus empregados.
Entendemos que tais contratos melhor seriam definidos como convênios de prestação de serviços. A não incidência da regulamentação dos planos de saúde sobre tais produtos deveria ser explícita para evitar confusões, especialmente aquelas geradas com a obrigatoriedade ou não de cadastramento dos respectivos produtos e de seus beneficiários junto à ANS.
O assunto merece atenção, pois temos observado a expedição de “Avisos de Beneficiários Identificados” – ABIs para cobrança de reembolso por procedimentos realizados pelo SUS, mesmo em casos de pacientes beneficiários desses planos de custeio operacional, e ainda que o repasse do valor da assistência pela empresa contratante seja integral. Ou seja, o paciente é atendido pelo SUS, optando por não acionar seu plano de custeio operacional, na medida em que não tem condições de arcar, regressivamente, com o valor dos procedimentos a se realizarem. No entanto, ao proceder-se ao cruzamento de dados, identifica-se aquele paciente como beneficiário do indigitado plano, procedendo-se, então, à cobrança do ressarcimento pela operadora. Logicamente que, tendo de arcar com aquele custo, assistirá à operadora o direito de, aplicando as regras do contrato, cobrar tal custo da empresa contratante, que, por sua vez, descontará referido valor do pagamento devido ao empregado envolvido. Ao final, portanto, quem arcará obrigatoriamente com esse custo será o próprio paciente, a quem, portanto, terá sido negado o acesso ao SUS.
A Relação Estabelecida entre Operadoras e Credenciados
Outra interessante discussão a que somos remetidos quando analisamos a definição de plano contida no inciso I do artigo 1º diz respeito à natureza da relação que se estabelece entre as operadoras e seus credenciados.
A atividade de plano de saúde revela a predominância da obrigação de dar, consistente no dever de a operadora arcar com os custos assistenciais incorridos por seus beneficiários junto à rede credenciada. Ou seja, frente ao beneficiário do plano, predomina, para a operadora, a obrigação pecuniária consistente em assumir a obrigação de pagar o prestador eleito para a realização de determinado tratamento assistencial.
Tal aspecto é agora reforçado com a definição legal do produto, ao dispor expressamente que os pagamentos aos prestadores de serviços ou os reembolsos aos consumidores serão feitos por ordem e conta destes. Ora, se um pagamento é feito por conta do consumidor, isso quer dizer que ele é o titular da relação de prestação de serviços que se estabelece diretamente com o prestador.
A operadora, dessa forma, intervém apenas para assumir a obrigação pecuniária dessa relação de prestação de serviços. Não seria coerente considerar que os serviços são prestados em nome da operadora (ou mesmo pela operadora), se os pagamentos aos respectivos prestadores não são feitos por sua conta, e sim por conta dos seus consumidores.
Isso permitiria concluir que as operadoras não estão sujeitas ao pagamento do imposto sobre serviços – ISS, na medida em que sua receita não estaria remunerando serviços seus propriamente, mas sim se voltando à constituição de uma provisão destinada ao pagamento de eventos indenizáveis em que envolvidos os beneficiários de seus planos junto à rede credenciada, o que igualaria a atividade de plano de saúde à atividade securitária. Também seria questionável a própria incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela operadora aos prestadores, na medida em que esse pagamento não estaria sendo feito por serviço que lhes tenham sido prestados, mas sim por ordem e conta dos consumidores por serviços prestados diretamente a estes.
No entanto, há uma sólida corrente jurisprudencial no sentido de que os serviços são prestados pelos credenciados em nome das operadoras, o que distancia a definição legal da realidade observada nos Tribunais para esse tipo de atividade. Ou seja, enquanto a definição dispõe que os pagamentos aos credenciados são feitos por conta dos consumidores, a jurisprudência tende a considerar esses pagamentos como realizados por conta das próprias operadoras – daí, então, os julgamentos pela incidência do ISS sobre as receitas dos planos, e das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos feitos aos credenciados.
Ante a divergência, portanto, melhor seria que a própria Lei, a pretexto de disciplinar de forma exauriente o instituto, viesse a dirimir essa dúvida, esclarecendo se os serviços prestados pelos credenciados o são em nome da operadora ou em nome do próprio credenciado. No primeiro caso, que mais se aproxima da jurisprudência dominante, então deveria ser excluído do texto legal a referência ao pagamento dos prestadores por ordem e conta dos consumidores.
Tal adequação do texto legal à realidade teria ainda a vantagem de melhor definir a responsabilidade das operadoras em relação aos serviços prestados por seus credenciados. Atualmente, observamos uma tendência no sentido de se estender às operadoras de planos de saúde a responsabilidade civil por más práticas de seus credenciados, ainda que autônoma a relação entre ambos. Essa situação demonstra a tendência inequívoca de se considerar a prestação de serviços como uma extensão da obrigação da própria operadora.
Além disso, uma definição clara do produto, que melhor contextualize essa relação entre a operadora e credenciados, afastaria de dúvidas a aplicação de determinadas regras, como, por exemplo, aquela recentemente criada, no sentido de se proibir dos prestadores a exigência de garantias no momento em que forem contratados pelos consumidores. Ora, se a relação que se estabelece entre prestador e consumidor é autônoma em face da operadora do plano de saúde – já que essa somente ingressaria nessa relação para sub-rogar-se na obrigação pecuniária que se constitui para o beneficiário -, então careceria de competência a ANS para regulamentá-la e fiscaliza-la, sendo inválidas as regras que representassem qualquer tipo de limitação à plena autonomia de contratar dos prestadores.
Da Cobertura Obrigatória
Outro assunto que merece destaque em nossa explanação diz respeito à adoção obrigatória de um amplo rol de procedimentos para as segmentações previstas na regulamentação. Conforme já dito anteriormente, esse rol obrigatório acaba por alargar demasiadamente o feixe de obrigações das operadoras frente a seus beneficiários, influindo diretamente na sinistralidade dos produtos, e gerando impacto direto sobre os valores de suas contraprestações pecuniárias.
Tal fato faz com que sejam inviabilizados exatamente os planos que, com uma cobertura mais limitada, permitem o acesso de uma parcela maior da população, principalmente fora dos grandes centros.
Muitos produtos se pautaram, até então, pelo atendimento às necessidades básicas dos consumidores, procurando oferecer cobertura financeira a situações mais corriqueiras, cujos riscos, apesar de envolverem custos menores, tinham maior incidência sobre a população exposta. Tal permitia um melhor gerenciamento da capacidade de resolução da rede credenciada, sem necessidade de constituição de uma retaguarda dispendiosa para procedimentos mais complexos.
Há de se destacar que a maior deficiência observada no sistema único de saúde gira em torno exatamente da atenção básica e dos atendimentos de média complexidade, o que está relacionado à baixa remuneração prevista na respectiva tabela de procedimentos. Por outro lado, é notória a disputa que se trava entre os diversos prestadores conveniados para assumirem os atendimentos de alta complexidade, cuja remuneração pelo SUS é satisfatória.
Partindo dessa análise, traduzir-se-ia numa política mais eficaz de inclusão social nessa área permitir-se aos planos a oferta de cobertura até o nível intermediário de complexidade, estabelecendo-se, em relação aos procedimentos mais complexos, uma política de cooperação com os órgãos gestores do SUS, apenas para subsidiar parte de seu custo efetivo.
Há de se considerar que as operadoras de planos de saúde operam na suplementação da atenção prestada pelo Estado, este sim obrigado por sua implementação em caráter universal e integral. Não há sentido em se obrigar que um setor voltado a suplementar a atividade estatal preste o mesmo atendimento integral a que obrigado o Estado, por força de disposições constitucionais. O setor de saúde suplementar não pode servir de arrimo para que o Estado saneie sua política pública de saúde.
Vale ressaltar que as pequenas operadoras não têm estrutura para implementar a cobertura determinada pela legislação, pois os valores envolvidos em alguns procedimentos obrigatórios podem levar a um significativo desequilíbrio de suas finanças quando da evidenciação, em alguns casos, de um sinistro apenas.
Isso leva a que, para estabelecerem uma provisão suficiente à cobertura desses riscos cada vez mais vultosos, acabem as operadoras por aumentar o valor da prestação de seus planos, levando a um êxodo de consumidores, que inevitavelmente irão congestionar o SUS.
Ou seja, pretendendo se valer dos planos privados para permitir com que os respectivos beneficiários tenham acesso obrigatório a serviços integrais na área da saúde, mitigando sua obrigação ao menos com essa parcela dessa população, acabará o Estado por inchar a própria estrutura pública de atenção, na medida em que, adotando uma política equivocada, levará ao esvaziamento desse setor suplementar.
Será que melhor não seria uma atuação integrada entre o Estado e os planos privados, permitindo a estes que enfoquem a atenção nos níveis primários e intermediários, com isso barateando os respectivos preços e permitindo um acesso de um contingente maior da população?
Tal sistema poderia ser implementado, flexibilizando-se a cobertura obrigatória a que sujeitas as operadoras, permitindo sub-segmentações dentro daquelas previstas no artigo 12. Para resguardar a boa-fé na contratação, reforçar-se-ia a fiscalização quanto à clareza dos contratos, intensificando as obrigações das operadoras em relação às informações a serem prestadas aos consumidores quanto às características de seus contratos, especialmente em relação à cobertura.
Esse sistema poderia conviver inclusive com a oferta obrigatória do plano referência, com o diferencial de permitir que o consumidor opte por produtos com abrangência mais limitada, exercendo com plenitude sua autonomia de vontade ao contratar.
Do Ressarcimento ao SUS
Outro ponto que causa estranheza na regulamentação diz respeito às regras criadas para o ressarcimento ao SUS.
Primeiramente, devem ser criados mecanismos que excluam desse procedimento aquelas espécies de produto que não encerrem cobertura financeira de eventos assistenciais – como por exemplo os sistemas de custeio operacional -, pois, como se disse, o ressarcimento dos custos pelas respectivas operadoras poderia implicar na negação do acesso ao SUS aos respectivos beneficiários.
De acordo com o que dispõe a Lei, esse ressarcimento seria feito por valores não inferiores aos praticados pelo SUS, nem superiores aos praticados pelas operadoras com seus credenciados (cf. § 8º, do artigo 32).
No entanto, o que se observa é que o ressarcimento se pauta numa tabela intermediária, cujos valores em regra superam os valores praticados pelo SUS, superando por vezes os próprios valores praticados com a rede credenciada.
Ora, o ressarcimento é uma espécie de recomposição. Ou seja, com ele se visa ao restabelecimento da situação patrimonial das partes envolvidas. De acordo com a sistemática adotada pela Lei, se um procedimento é realizado pelo SUS, deve a operadora restituir ao respectivo gestor aquele custo em que ele incorreu no atendimento. Não há como se admitir que o ressarcimento permita ao órgão gestor ter uma receita adicional, pois então de ressarcimento não se trataria.
Logicamente que o ressarcimento também não pode impor à operadora uma obrigação superior àquela que tem em razão do próprio contrato que comercializa com o consumidor. Esse o motivo pelo qual o limite do valor a ser ressarcido é aquele que ela própria, operadora, pratica com seus credenciados, pois essa é a obrigação que assume frente ao sistema que opera.
Assim, o ressarcimento deve se pautar pelo menor valor entre a tabela SUS e a tabela particular praticada pela operadora com sua rede credenciada, razão pela qual não podemos concordar com a estipulação de uma tabela de ressarcimento com valores superiores aos praticados pelo SUS, pois isso desvirtuaria o próprio dispositivo legal.
Carência
Quanto às regras instituídas para carência, duas questões surgem quanto a sua aplicação.
Primeiramente, em relação às urgências e emergências, parece haver uma indevida limitação da cobertura por meio da Resolução CONSU 13, na medida em que contraria a regra mais abrangente disposta, sem ressalvas, no artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9656/98.
De fato, pela referida resolução, a responsabilidade financeira irrestrita da operadora, enquanto em vigor os prazos de carência, somente se dá para os casos de urgência decorrentes de acidentes pessoais. Para os casos de urgência por complicações no processo gestacional ou de emergência, quando estiver o beneficiário em cumprimento do período de carência, a responsabilidade financeira das operadoras somente recai sobre o atendimento ambulatorial, durante as 12 (doze) primeiras horas.
Ou seja, a disposição regulamentar está aparentemente a limitar de forma indevida a própria regra legal que dispõe que a carência para esses casos é de apenas 24 (vinte e quatro) horas.
Outro ponto sobre carência que merece atenção diz respeito à cobertura assistencial do recém-nascido e à garantia de sua inscrição no plano, com isenção do cumprimento de carências. Da forma como redigida a regra, o benefício fica assegurado ainda que o próprio atendimento obstétrico esteja temporariamente excluído por força do cumprimento de carência.
Tal fato dá margem à prática de fraudes, pela possibilidade de se contratar um plano obstétrico no final da gravidez, visando apenas a assegurar cobertura ao recém-nascido, o que pode comprometer o próprio equilíbrio do contrato, na medida em que as eventuais complicações no pós-parto não poderão ser controladas de forma satisfatória pela aplicação da carência enquanto mecanismo de regulação legítimo da operadora.
Da Rescisão dos Contratos Individuais
Outro ponto obscuro da legislação diz respeito à regra imposta às operadoras para permitir a rescisão de planos individuais/familiares somente quando do atraso no pagamento das prestações, por período superior a 60 (sessenta) dias.
Primeiramente, não é clara a regra a respeito das conseqüências de não se proceder à notificação do consumidor até o 50º (qüinquagésimo) dia de inadimplência. Ora, interpretando-se literalmente o dispositivo, tem-se a impressão de que, se a notificação não for feita até então, perde a operadora o direito de rescindir o contrato. Evidentemente que essa não é a intenção do legislador.
Considerando que o período de atraso, para autorizar a rescisão, pode ser somado a outros atrasos anteriores – pois não há a necessidade de que os 60 (sessenta) dias sejam consecutivos -, podemos nos deparar com uma situação em que um determinado beneficiário atrase sua prestação, vindo a quita-la no 49º (quadragésimo nono) dia. Se houver novo atraso, e a operadora não proceder a sua notificação no primeiro dia desse atraso – o que é provável -, então perderia ela o direito à rescisão do contrato?!
Outra dúvida que a imperfeita redação causa diz respeito à forma de se somar esses períodos de atraso, para se atingir os 60 (sessenta) dias após os quais fica autorizada a rescisão. Apresentaremos um exemplo para demonstrar como a regra, da forma como instituída, pode causar confusões: suponha que tenho um plano que vence todo dia 10; deixo de pagar minha prestação no dia 10 de junho e no dia 10 de julho; somente no dia 25 de julho, procedo à quitação da prestação do dia 10 de junho; nesse caso, apesar de o atraso da primeira prestação ter atingido 45 (quarenta e cinco) dias, a outra também já está em atraso 15 (quinze) dias, o que, somado, atinge os 60 (sessenta) dias.
Será então que, nessa hipótese, fica a operadora autorizada a proceder à rescisão justificada do contrato? Como fica, numa situação tal, a notificação prévia do consumidor?
Assim como outros pontos aqui realçados, achamos prudente que esse dispositivo também tenha sua redação alterada, para evitar transtornos em sua aplicação.
Doenças ou Lesões Pré-existentes
Conforme se depreende de toda a regulamentação, as regras que disciplinam o contrato em caso de DLP remetem ao conhecimento da enfermidade pelo beneficiário anteriormente à contratação.
Ou seja, o que importa para a caracterização da DLP não é efetivamente sua pré-existência em relação ao momento em que se constitui validamente o contrato, mas sim seu pré-conhecimento pelo consumidor contratante.
Tal distinção causa dúvidas no consumidor, autorizando com que seja negada cobertura sob o pressuposto de que, apesar de não conhecida, a doença ou lesão pré-existia. É certo que os tribunais há muito vêm aplicando a regra de que não podem ser excluídos da cobertura os tratamentos que tenham origem em enfermidade de que não sabia o consumidor ser portador, aplicando o princípio da boa-fé outrora expressamente previsto para incidência sobre os contratos de seguro. No entanto, nem todos os consumidores, diante de uma negativa, procuram a Justiça para ver prevalecer seus direitos, havendo muitos que inclusive se convençam com a explicação das operadoras.
Será então, que não seria melhor, para dirimir qualquer eventual dúvida, alterar a designação dessa situação para doença ou lesão pré-conhecida?!
Encerramento
Sendo esses nossos breves comentários a respeito de alguns pontos da regulamentação sobre planos de saúde, colocamo-nos à disposição para discussão da matéria e/ou para eventuais esclarecimentos a respeito do quanto aqui sustentado.
Daniel Barauna
Montenegro, Atalla, Galvão e Barauna
Advogados Associados